Contributos árabes na literatura popular portuguesa
Castelo de Aljezur (sécs. XII-XIII)
SINOPSE
A presença árabe muito cedo deixou marcas literárias no território que havia de constituir as terras de Portugal. Os seus contributos foram decisivos para a construção da nossa identidade cultural e literária. Contribuíram para a formação do nosso imaginário popular e para as formas e temáticas da nossa literatura popular e trovadoresca, marcadamente poéticas, com profundas referências à sabedoria das civilizações clássicas e orientais. A nossa dramaturgia (de Gil Vicente a Norberto de Ávila) compraz-se no seu exotismo. A nossa novelística e os nossos romances continuaram a cultivar a sua memória, ora pelas suas caraterísticas guerreiras temíveis, ora pela sua sofisticada civilização repleta de sabedoria, paz e refinados prazeres.
Algumas ocorrências são ecos de um profundo Debate em torno das temáticas teológicas e filosóficas, como as magistralmente expostas por um Pinharanda Gomes que não deixou de refletir sobre as suas mais remotas origens acádias e persas, tão evidentes nos contos das mil e uma noites e seus descendentes, como nas mais arcaicas lendas de moiras encantadas, que tanto se confundem com outros imaginários ocidentais tais como os celtas e godos. As lendas das batalhas entre cristãos e muçulmanos, pertencem a um sistema de afirmação nacional exacerbado e simultaneamente criticamente revisto em pleno período romântico. Ourique, Salado e Alcácer Quibir constituem, de fato momentos decisivos para a narrativa da nossa existência que gostamos de atribuir à vontade e decisão divina. Afirma a legitimação heroica e divina da nossa existência no confronto sacrificial com o mais temível dos infiéis.
O estudo apresentado visa apenas esclarecer alguns dos contributos árabes, muçulmanos e mouros na literatura popular, tais como na onomástica, nos provérbios, nas anedotas, no cancioneiro (José Leite de Vasconcelos e Michel Giacometti), na poesia (Teófilo Braga), nos contos (José Leite de Vasconcelos, Consiglieri Pedroso, Teófilo Braga), nas lendas (Gentil Marques, Fernanda Frazão, José Viale Moutinho) e no romanceiro popular (Almeida Garrett, Perre Ferré). Trata-se de proceder ao reconhecimento de uma presença antiquíssima, constante e ainda hoje extremamente atuante.
LUCIANO PEREIRA
Escola Superior de Educação
Instituto Politécnico de Setúbal
1. PORTUGAL E O GARB DO AL ANDALUZ
Os nossos mais reputados arabistas contemporâneos (António Borges Coelho, Pinharanda Gomes, Adalberto Alves,…) não hesitam em expressar sérias dúvidas ou mesmo negar a velha tese do extermínio da população árabe e moura que teria ocorrido a partir da “chamada” reconquista e encontrado o seu clímax com o reinado de D. Manuel e, mais tarde, no reinado do seu herdeiro, que cedera à pressão dos Reis Católicos, e tudo fez para instalar no nosso território a solução final (Santa Inquisição) para as minorias arábicas e judaicas. Ninguém nega a forma brutal com que a Reconquista se apoderou de terras, castelos e cidades, assim como a intolerância e falta de piedade com que tratou todos os que lhes surgiam pela frente: “Caçava-se tudo: muçulmanos, berberes, hispanos, árabes, moçárabes.” (Coelho, 1973: 21)
No Al Garb ou Ocidente, a primeira grande investida iniciou com a conquista de Coimbra e das terras entre Douro e Mondego. O Islão continuava, todavia, a resistir na imensidão da Serra da Estrela, como já o havia feito Viriato na sua heroica luta contra o Império romano. Vivem-se então momentos em que se alternam razias e atividades comerciais ao longo da estrada Coimbra-Santarém (Leiria). A queda de Lisboa consolidou a linha do Tejo litoral. Milhares de moçárabes e muçulmanos tiveram de se recolher nas terras de Alcobaça, Óbidos e outras terras estremenhas que foram resistindo ou mais ou menos poupadas pela verdadeira loucura cristã protagonizada por hordas de aventureiros do Norte, em busca de prestígio, terras e riquezas. Embrenharam-se os cavaleiros em nome de Cristo pelos montados e planícies alentejanas. Giraldo Sem Pavor e os seus guerreiros moçárabes, que, em abono da verdade, tanto se aliavam a cristãos do Norte como a muçulmanos das diferentes taifas desavindas, contribuíram para enfraquecer pouco a pouco as apertadas relações que existiam entre o Alentejo, a Extremadura e a Andaluzia, destacando-se Badajoz e Sevilha. O Guadiana vai-se tornando a fronteira que virá a ser, deixa de unir para separar praticamente até à atualidade e as conquistas de Alcoutim a Aljezur anunciam as últimas derrotas das taifas algarvias:
“Os ventos da Conquista-Reconquista não sopravam apenas do norte: vinham de leste, do oeste, do sul e do sudoeste. Olhe-se o mapa físico: ergam-se as massas das montanhas, talhem-se os cursos dos rios. Ponteiem-se depois as cidades: primeiro Córdova, o farol; depois Sevilha, Toledo, Saragoça, Valência, Silves, Badajoz. É de lá que o vento sopra. De lá se bombeiam as mercadorias, as armas, os cavalos, os homens. Para lá se acorre em busca de ciência, de civilização e de riquezas.” (Coelho, 1973: 22)
Não se julgue que fora o esforço militar que, por si só, trouxe a vitória cristã. Só quando Fernando Magno e seu filho, Afonso VI, compreenderam e aceitaram a originalidade social e até religiosa do Islão, é que as conquistas se tornaram efetivamente irreversíveis. Os homens de Entre Douro e Mondego ergueram a cruz mediante a iniciativa de Sisnando de Tentúgal, vizir de Sevilha, Conde de Coimbra. Governou a nova estrema com poderes soberanos: poder de organizar todas as coisas segundo a sua vontade. E a sua vontade consistiu em favorecer os proprietários livres, em firmar a organização coletiva urbana, em recolher as técnicas e a ciência do mundo muçulmano que o formara. Mas Sisnando não estava sozinho. Apoiavam-no as espadas e os alfanges dos proprietários livres de Lamego, de Viseu, de Seia, de Coimbra. A força dos seus homens bastou ao menos para impedir que a todo-poderosa hierarquia religiosa impusesse o bispo que esta escolhera.
Aponta-se como objetivo expresso do conimbricense o de integrar o Andaluz nos estados cristãos, respeitando a originalidade e as conquistas sociais, combatendo a intolerância religiosa. Vinte e um anos depois de assumir o governo de Entre Douro e Mondego, Sisnando revela-se um político aceitável para os habitantes do outro lado da fronteira ao negociar a capitulação de Toledo cujo governo assume. Os toledanos conservam as suas conquistas sociais e até à sua mesquita aljama, profanada pouco depois pelo partido franco, apesar dos protestos do seu governador.
Os francos e borguinhões contribuíram para as imposições emanadas de Roma e de Cluny. As lutas entre taifas também contribuíram para várias conquistas cristãs (Lisboa) e apenas um aventureiro, Giraldo Sem Pavor, acompanhado de um punhado de moçárabes e santarenos, conquistou um território tão vasto como metade do reino de Afonso Henriques. A maior parte do território, hoje português, integrava-se numa rede onde sobressaiam aglomerados urbanos tais como Toledo, Saragoça, Córdova, Badajoz e Sevilha. A circulação de homens, bens e ideias processava-se por rotas dispostas no sentido noroeste-sudeste ou leste-oeste, perpetuando a tradição romana. O Algarve constituía uma ponte voltada para o Magrebe: “Lisboa, Alcácer, Silves, Faro, Tavira ligavam-se aos portos norte-africanos, a Ceuta, Alexandria, Alepo e daí, a Fez, Marraquexe, Cairo, Meca, Bagdade:
“Fala-se no caminho para Santiago, desbravado mais intensamente após a chegada dos Clunicenses e de Raimundo e Henrique, Caminho ponteado de pequenos burgos, dava passagem a peregrinos, guerreiros imigrantes, colonos, mercadores e artífices e transportava de retorno mercadorias, homens, novas ideias, novas técnicas, riquezas. Mas havia também um caminho para Meca de que ninguém fala. E bem mais antigo. E bem mais grávido de presente e de futuro. Por onde se derramou o caudal das técnicas agrícolas e artesanais que revolucionaram o ocidente medievo. Por onde chegaram os manuscritos de Aristóteles, Avicena, as Universidades, os Hospitais.” (Coelho, 1973: 24)
A distribuição demográfica era bem diferente da atual. Na costa atlântica a densidade seria apreciável no Algarve, na Estremadura e no noroeste, mas as povoações engrossavam ao aproximar-se de Badajoz e de Sevilha. O forte povoamento do Alto Alentejo pode ainda assinalar-se no recenseamento ordenado por D. João III em 1527. Como a célebre capital dos suevos, a cidade dos arcebispos, estava longe da maioria das vilas alentejanas e algarvias. Tal como Adalberto Alves (1987: 25), comunguemos da justa veemência de Borges Coelho:
“Aceita-se geralmente a contribuição do Islão na propagação das técnicas de rega, da bússola, do papel e no aumento do pomar peninsular sem se ousarem conclusões necessárias. A fisionomia do Portugal agrário que está morrendo aos nossos olhos moldou-se em boa parte pelo arquétipo do Andaluz mourisco, mesmo quando não é ele o autor das técnicas, mas o seu último transmissor. Apaguem por um momento dos campos de Portugal as sombras do pessegueiro, do limoeiro, da laranjeira, da nespereira, da ameixoeira, da alfarrobeira; recue-se para sul a oliveira, suprimindo a comercialização do azeite e da azeitona; rareiem-se as amendoeiras noras, os alambiques, as alquitarras, intensifique-se a vinha no Alentejo e no algarve; retirem-se da periferia das cidades a mancha verde das hortas, dos meloais, das forragens; castrem-se os cavalos de Alter; afoguem as azenhas ou calem o canto dos moinhos de vento (Ibne Mocana Alisbuni, debalde cantaste na tua Alcabideche desse século XI: «Se és homem decidido precisas de um moinho que trabalhe com as nuvens sem dependeres dos regatos»); abatam a camartelo as muralhas do centro e do sul cujo risco, para lá das reparações e dos acrescentos posteriores, foi obra dos seus alarifes ou arquitetos; desmontem as algemas, as abóbadas do chamado gótico alentejano, as fontes abobadadas; piquem as taipas, os estuques; destruam as casas de adobe caiadas de branco por dentro e por fora; enterrem os azulejos; queimem as esteiras, as alcofas, os capachos, os tapetes; rachem os alguidares; tentem destruir os couros, os arreios, os cobres, as grades geométricas. Que nos fica?” (Coelho, 1973: 26)
O cristianismo vencedor apagou as marcas dos derrotados, mas os seus ecos continuam a chegar até nós. «Escrevo isto em sinal do meu sofrimento» (o alarife muçulmano da Sé Velha de Coimbra) Almutádide de Sevilha orgulha-se por ter erguido a torre de menagem do castelo de Moura. «Mouro me fez» registou a igreja de Arronches. Confessam os muros da igreja de Mértola: «Esta igreja foi mesquita». Osberno declarou que a mesquita de Lisboa foi transformada em catedral. Rios, montes, povoados conservaram os seus nomes mouriscos: Guadiana, Odemira, Odelouca, Odeceixe, Almançor, Bensafrim… No fundo lusitano incorporaram-se, sem dúvida, diversos genes tais como os germanos, mas o contributo dos berberes e dos árabes (iemenitas, egípcios e sírios) ultrapassou de longe o legado bárbaro medieval. Além dos berberes e árabes da conquista, companheiros de Tárique e Muça, vieram tropas sírias e egípcias, uns estacionaram em Beja outros em Ossonoba. Silves povoou-se de árabes iemenitas. Abderramão I, o fundador do estado omíada do Andaluz, recebeu clientes de todos os pontos do Islão. Até ao fim do califado de Córdova este fluxo foi ininterrupto.
Os berberes eram, porém, em maior número. Constituíam a maior parte exército de Tárique. Após a conquista fixaram-se nas zonas norte e montanhosas da Península. Ibne Haiáne assinala no século X a existência de um grosso cinturão berbere nos territórios limítrofes de Portugal a leste de que ainda subsistem vestígios. Abderramão III, Aláqueme II e sobretudo Almançor recrutaram numerosas tropas berberes para não falar dos escravos sudaneses. Berberes sarianos foram os triunfadores almorávidas que sustiveram o avanço de Afonso VI e berberes foram os almóadas que durante um século contiveram todas as tentativas de incursão dos estados cristãos. (Alves, 1987: 19)
Por certo a Reconquista permitiu a fixação de grupos francos (franceses, flamengos, ingleses, borguinhões, germânicos) atestados por diversas fontes históricas, pala toponímia e pela antroponímia (Edvige). Grande parte dos mouros foi abdicando da sua algaravia e dos seus nomes de origem; todavia muitos nomes referentes à vida do quotidiano, em particular agrícola, vão se latinizando e continuam a resistir alguns Alis, e Fátimas. Os mouros não foram todos expulsos, nem passaram todos pelo fio da espada.
De Garrett, Teófilo Braga, José Leite de Vasconcelos, Giacometti e Adalberto Alves, foram muitos os que foram identificando vestígios árabes, mouros e mouriscos, ora numa canção de trabalho que ainda hoje se canta em Marrocos, ora em melodias berberes que se conservaram na península desde a noite dos tempos e que revestem agora roupagens cristãs.
2. ONOMÁSTICA, TOPONÍMIA E ANTROPONÍMIA
O estudo da antroponímia reserva-nos bastantes surpresas. Dom Rodrigue, também conhecido como El campeador, que nos habituámos a reverenciar como o visigodo, paladino dos cristãos, ficou gravado nas memórias, com uma expressão árabe: El Cid, proveniente do nominativo arábico: cidi (senhor) (Vasconcel-los, p. 36). Os nomes árabes registados nos nossos mais antigos documentos (1221-1226) são bastante emblemáticos, e espelham a sua forte conotação religiosa, tais como Abuali (pai de Ali, Afomade (Ahmad ou Ahmed), Mafomade (Mahommad ou Mahommed). Cedo encontramos a junção de nomes árabes com alcunhas portuguesas, o que pode indiciar uma maior proximidade do que poderíamos supor, tendo em conta a separação física dos diferentes povos em presença (mourarias, judiarias).
A própria palavra Mouro aparece-nos como nome de pessoa com algum relevo profissional, tal como o arquiteto que dirigiu a construção do castelo de Alandroal (Mouro Calvo). Embora pouco provável, não enjeitamos a possibilidade de estarmos perante a romanização e a representação fonética de um eventual nome árabe ou quiçá berbere. É minha convicção que por de trás de alguns dos patrónimos que nos habituámos a associar às nossas tradições regionais, se possam esconder eventuais arabismos simplesmente transcritos, de forma fonética, confundindo-se com palavras portuguesas (Vaca: Baka, cidade do centro da península arábica).
Segundo Adalberto Alves, são mais de quatro mil as palavras árabes que se aninharam nas línguas espanholas e pelo menos 18073 as que sobreviveram na língua portuguesa. Já José Pedro Machado havia estudado na sua obra Vocabulário Português de origem Árabe (Lisboa, 1991) mil e trezentos vocábulos dos quais mais de 800 começavam por "a" (Machado, 1997).
Adalberto Alves explica esta significativa e surpreendente discrepância com o facto do Garb al-Andalus se afirmar como um território periférico, extremamente conservador e muito menos permeável às inovações trazidas pela conquista cristã (Alves, 2013, 23). Não podemos, como é óbvio, fazer uma exposição nem uma reflexão aprofundada sobre o significado, a aquisição e os processos de integração de tão precioso contributo, apenas apresentamos um quadro com uma diversidade de palavras para ilustrar tamanha herança:
3. PROVÉRBIOS
O dicionário de provérbios, adágios, ditados, máximas, aforismos e frases feitas, compilado por Maria Alice Moreira dos Santos e publicado pela Porto Editora traduz um inequívoco etnocentrismo e uma visão bastante pejorativa do árabe ou do muçulmano, sempre referido por mouro na nossa cultura popular. O mouro ficou plasmado nos nossos provérbios como o inimigo por excelência; trata-se do infiel, do perigo eminente (Anda moiro na costa. 665, p. 48), da fonte de todos os males (De Moura, nem bom vento, nem bom casamento. 1862, p. 102).
O mouro está associado ao escravo, ao inferior (Já o mouro quer ser gente. 3212, p. 165), o seu valor é nulo para quem o possui e até eventualmente pernicioso (Vinho e mouro não é tesouro. 7209, p. 348). O seu caráter dominante e intolerante é sublinhado nas terras algarvias (Em casa de mouro não fales algarvio. 2355, p. 124).
Em suma, mouro bom é mouro morto (Em mouro morto grande lançada. 2403, p. 126). Marginalmente, surge com uma conotação positiva relacionada com a sua capacidade de trabalho (Ser um mouro de trabalho. 6979, p. 338). A sabedoria popular reconhece, todavia, que todos os povos têm os seus defeitos e as suas fraquezas, numa espécie de ato de contrição e de movimento humildade e reabilitação do Outro (Judeus em Páscoas, mouros em bodas e cristãos em pleitos, gastam os seus dinheiros. 3256, p. 167; nunca de bom mouro, bom cristão, nem de bom cristão bom mouro. 4429, p. 221).
4. CANCIONEIRO
O nosso cancioneiro popular prolonga, em larga medida, a mesma visão etnocêntrica dos nossos provérbios. É frequenta associar o judeu ao mouro, atribuindo-lhes rigorosamente as mesmas caraterísticas e defeitos tal como no-lo relembra José Leite de Vasconcellos (1981: 186):
Judeus e Mouros
A minha nódoa de azeite
Por tempo se há de tirar,
Mas a tua de judia
Contigo se há de acabar. (Coimbra)
Deus te livre do mouro e do judeu
E do homem de Viseu.
É ditado bem sabido
Desde nosso pai Adão
Que nem de Cristo bom mouro,
Nem de mouro bom cristão. (Coimbra)
Giacometti recolheu uma cantiga de malhas transmontana que celebra a volúpia, os encantos e as belezas das moiras que encantam e apaixonam (Oh que bem baila la moura. K. Schindler. Tuiselo / Vinhais / Bragança, 1933):
1.º coro:
Oh que bem baila la moura
E eu bem na vi bailar;
2.º coro:
Oh que bem baila la moura
E eu bem na vi bailar;
1.º coro:
Mourinha do Seixal
Eu bem na vi bailar;
2.º coro:
Oh que bem baila la moura
E eu bem na vi bailar;
1.º coro:
mourinha do Seixal
Eu bem na vi bailar;
2.º coro: Oh que bem baila la moura
1.º coro: E eu bem na vi bailar;
2.º coro:
mourinha do Seixal
Eu bem na vi bailar;
1.º coro:
Com seu cabelo entrelaçado,
Eu bem na vi bailar;
2.º coro: Oh que bem Baila la moura,
1.º coro: Eu bem na vi bailar;
(…)
(Giacometti, 1981: 118)
Giacometti apresenta uma versão algarvia muito curiosa de um romance que já havia sido publicado por almeida Garrett no seu romanceiro, embora, nessa versão, a casa que acolhe o cristão escravizado seja judia: O cativo (Romance novelesco. Aljezur / Faro, 1961. F. Lopes-Graça).
Entre pazes e a guerra
me cativaram os mouros,
não havia mouro, nem moura,
oh, tão lindo!
Passasse de à noite ver. (sic)
Só um mouro se atrevera,
que mil patacas lhe dera,
de dia pisava esparto,
oh, tão lindo!
à noite moía canela,
com uma mordaça na boca,
oh, tão lindo!
para não comer dela.
Mas dava-lhe Deus a ventura
ter uma patroa tão bela,
oh, tão lindo!
que também lhe dava de o pão
oh, tão lindo!
do que o perro comia
Também lhe dava de o vinho,
oh, tão lindo!
que perro mouro bebia.
Sempre lhe estava dizendo:
- Cristão, vai prá tua terra, que eu também já fui cristoa, oh, tão lindo!
E agora sou moura perra.
(…) (Giacometti, 1981: 278)
6. ROMANCEIRO
Por questões metodológicas cingir-nos-emos ao romanceiro publicado por Almeida Garrett, iniciando com uma referência ao romance referido anteriormente e publicado por Giacometti. O moiro surge aqui como o dominador, tão exigente em relação aos seus escravos que despreza totalmente o cristão cativo:
O Cativo
“Vendido no mercado de Salé pelos corsários que o tomaram, um pobre cativo cristão vai ser escravo de avarento e rico judeu, que lhe dá negra vida. É o primeiro capítulo de uma história sabida e comum: e naturalmente se espera já o segundo, que é namorar-se do interessante cativo a bela filha do mau perro judio, animá-lo consolá-lo, querer fugir com ele da moirama. (…)” (Garrett, 1997: 264)
Eu vinha do mar de Hamburgo
Numa linda caravela;
Cativaram-nos os moiros
Entre la paz e la guerra.
Para vender me levaram
A Salé, que é sua terra.
Não houve moiro nem moira
Que por mim nem branca dera;
Só houve um perro judio
Que ali comprar-me quisera;
Dava-me uma negra vida,
Dava-me uma vida perra:
De dia pisar esparto,
De noite moer canela,
E uma mordaça na boca
Para lhe eu não comer dela.
(…) (Garrett, 1997: 264)
A guerra é o tema predominante que representa o moiro na nossa memória coletiva e o romanceiro não foge à regra. Eles são a fonte de todas as desgraças e o contacto com a sua cultura torna-se um verdadeiro perigo para a identidade individual e coletiva. O ser humano, tal como o cristianismo, corre sérios riscos em qualquer tipo de contactos com a cultura muçulmana. A Noiva Arraiana, xácara recolhida em Almeida é um eloquente exemplo deste temor e deste mito:
- «Deus vos salve, minha tia, Na vossa roca a fiar!»
- «Venha embora o cavaleiro Tão cortês no seu falar!»
- «Má hora se ele foi, tia, Má hora torna a voltar! Que já ninguém o conhece De mudado que há de estar. Por lá o matassem moiros, Se assim tinha de tornar!»
(…) (Garrett, 301)
O nosso imaginário acabou por associar e quase confundir os mouros e os judeus, embora com graus diferentes de antagonismo e de repulsa consoante as épocas e os interesses da narrativa cristã dominante. Rainha e Cativa ilustra magnificamente a relativa confusão entre estas duas culturas, ambas sentidas como ameaçadoras e ambas desejadas com níveis diferentes de concupiscência:
- «À guerra, à guerra, moirinhos, Quero uma cristã cativa!
Uns vão pelo mar abaixo, Outros pela terra acima: Tragam-ma cristã cativa, Que é para a nossa rainha.» Uns vão pelo mar abaixo, Outros pela terra acima: Os que foram mar abaixo Não encontraram cativa; Os que foram terra acima, Tiveram melhor atina, Deram com o conde Flores Que vinha de romaria: Vinha lá de Santiago, Santiago de Galiza; Mataram o conde Flores, A condessa vai cativa.
Mal que o soube a rainha, Ao caminho lhe saía:
- «Venha embora a minha escrava, Boa seja a sua vinda!
Aqui lhe entrego estas chaves Da despesa e da cozinha; Que me não fio de moiras Não me deem feitiçaria.»
- Aceito as chaves, senhora,
Por grande desdita minha…
Ontem condessa jurada,
Hoje moça da cozinha!»
A rainha está pejada,
A escrava também o vinha:
Quis a boa ou má fortuna
Que ambas parissem num dia.
Filho varão teve a escrava,
E uma filha a rainha;
Mas as perras das comadres,
Para ganharem alvíssaras,
Deram à rainha o filho,
À escrava deram a filha.
- «Filha minha da minha alma,
Com que te batizaria?
As lágrimas de meus olhos
Te sirvam de água bendita.
Chamar-te-ei Branca Rosa,
Branca flor de Alexandria,
Que assim se chamava dantes
Uma irmã que eu tinha:
Cativaram-na os moiros
Dia de Páscoa florida,
Andando apanhando rosas
Num rosal que meu pai tinha.»
Estas lágrimas choradas
Veis-la rainha que ouvia,
E coas lágrimas nos olhos
Muito depressa acudia:
- «Criadas, minhas criadas,
Regalem-me esta cativa;
6. CONTOS E LENDAS
A literatura de língua portuguesa também não ficou imune à fabulística árabe, muito antes das influências de autores modernos, tais como como La Fontaine. Mas nem o apólogo nem a fábula têm matriz árabe. São formas herdadas das influências da herança grega, ou mesmo bizantina, mas não são específicas nem da mentalidade, nem da ficção nem da mitologia arábicas. A excelência da arte narrativa e ficcional árabe é o conto, o mito. As ideias, as dúvidas e os desafios são personalizados. A sabedoria árabe fundiu-se nas histórias conhecidas por “As Mil e Uma Noites”. Por via escolar e oral muitos dos seus contos fixaram-se na cultura popular e erudita. Foi, todavia, a partir do século XIX que, na demanda dos nossos mitos nacionais, se assistiu à fixação escrita de tão antigos testemunhos arábico-portugueses. Aladino e Ali Babá migram dos meios rurais para a luz das urbes. Veja-se a tradução da versão francesa do conto arábico "As chinelas de Abu-Casem" realizada por Bocage (Chora, 2016):
“O saber europeu, que foi recetor do saber árabe através da estrutura adequada à educação dos infantes, minorou a intrínseca riqueza concetual, imagística e finalista de contos em que, à extrema simplicidade aparente, só responde a profunda complexidade interior, motivo pelo qual eles exerceram inelutável influência na literatura didática cristã da medievalidade, desde D. João Manuel ao Arcipreste de Hita. O conto, a anedota, o anexim, o apólogo, sumarizam o geral da sabedoria possível ao humano. A origem de “As Mil e Uma Noites” é obscura, ainda que seja aceite como tal o livro oriente chamado Hezar Afsâne, Mil Contos, cujo conhecimento decorativo integral definia o milionário. Esta palavra, no trânsito do primado do saber para o primado do ter tornou-se obtusa. Milionário é o sabedor dos mil contos.” (Gomes, 1991: 351-352)
O conjunto afirma uma origem lendária. Um rei, imune às astúcias femininas, matava ao nascer do sol a mulher que, com ele, passara a noite. Até que duas filhas do alvazir decidiram iludi-lo com uma história, que não nunca tinha fim. O rei deixou de desejar novas companhias noturnas e de sacrificá-las, como no passado. Xerazade (= nobre de raça, povo) e Dinarzade (= nobre de lei, direito) personificam as três principais lições do Islão: o primado da Nação Islâmica, o primado da Lei (Suna e Sura) e o primado da Sabedoria (sacrifício do desejo sexual em prol do desejo espiritual).
A universalidade destes princípios respondia a todas as exigências humanísticas de qualquer tipo de educação cívica. Ora, por via oral e popular, ora por via literária, a mensagem foi se disseminando aos quatro ventos como quem anuncia um mundo novo.
O livro "Calila wa Dimna", oriundo da Índia, foi traduzido do árabe em 1251 e em 1253 eram os romances dos Sete Sábios e, sem dúvida, as aventuras de Senderbar ou Sindibate (Sindebade), o marinheiro, e ainda o Livro dos Gatos, para além do imaginário temático que originou o nosso livro de Barlãao e Josafate, e o Conde Lucanor, de D. João Manuel, todos bebem em contos e apólogos orientais, por intermédio da sabedoria árabe. O facto de nosso mais antigo conjunto de fábulas datar apenas do século XV não nos pode iludir. A literatura portuguesa medieval apresenta-nos vários indícios da longa sabedoria indiana e arábo-pérsica:
“O único conjunto de fábulas, chegado aos nossos dias, em português medieval data do século XV. Mas Mário Martins (1980, p. 61) adverte-nos que seria ilusão pensar que, na altura, apenas corria esta versão cujo único manuscrito foi descoberto por José Leite de Vasconcelos, em 1900, na Biblioteca Palatina de Viana de Áustria. Em rigor, os mais que prováveis conjuntos anteriores encontram-se desaparecidos; mas a verdade é que encontramos valiosos testemunhos da sua existência dispersos em obras diversas. Perdidas as versões portuguesas de El Conde de Lucanor e do Libro de Buen Amor, registadas na biblioteca do rei D. Duarte sob os títulos de O livro do Conde de Lucanor e O Arcipreste de Fyta, resta-nos apenas confirmar a referência às múltiplas fábulas existentes nas versões castelhanas.” (Pereira, 2007).
D. Juan Manuel, em El Conde Lucanor, legou-nos inúmeras pequenas histórias de grande proveito, moral e exemplar, de entre as quais sobressaem fábulas que bastante marcaram o imaginário coletivo: A Raposa e o Corvo com um queijo no bico, A Andorinha que alerta para os perigos da sementeira de linho, O Galo com medo da Raposa, A Raposa a fingir de morta, sem esquecer algumas das mais populares parábolas tais como O Velho, o Rapaz e o Burro e O cego que guia outro cego, etc. Dos escassos fragmentos, que chegaram até nós, da tradução do Libro del Arcipreste O de Buen Amor, um Esopo cristianizado, herdámos apenas a fábula O monte que pariu um Rato, aliás também presente no Fabulário português publicado por José Leite de Vasconcelos (1902).
Uma versão de Calila wa Dimna ou da velha obra de Ctésias, chegada até nós por via do Fisiólogo ou de algum Bestiário, terá muito certamente estado na origem da história do unicórnio apresentada em O Horto do Esposo.
A literatura espanhola medieval faz eco de uma sociedade multicultural, onde gostos árabes convivem com formas hebraicas e morais cristãs. A tradição oral oriental deve ter sido de extrema pujança a avaliar pelas marcas que deixaram na literatura escrita. Os contos orientais eram tão apreciados quanto as ciências e a filosofia.
A primeira compilação de contos orientais em latim, Disciplina Clericalis, deve-se a um judeu converso em 1106, Pedro Afonso. A obra foi escrita em 1115, baseada, como afirma no seu prólogo, em provérbios e em ensinamentos árabes. Deu-lhe a forma clássica do diálogo entre mestre e ouvinte, filósofo e aprendiz. Corresponde à literatura de sapiência, oriunda da distante Mesopotâmia e da mais distante Índia, tão prezada pelos mais ilustres autores gregos tais como Hesíodo, Heródoto, etc. A obra é de grande importância porque será mais ou menos a forma que tomará El conde de Lucanor de D. Juan Manuel, neto do rei D. Fernando (1282-1348) e El libro de buen Amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Ambas estas últimas visam a formação moral do indivíduo ou mais precisamente do jovem clero. Os autores pretendem despertar os hábitos das boas ações, da vida reta, da fé profunda e explicar alguns mistérios divinos. A estratégia é a da ilustração de verdades profundas através de histórias agradáveis.
Em alguns casos a introdução desse elemento de deleite é mesmo forçada como acontece frequentemente em Juan Ruiz. Percebemos que a fábula não está no seu meio natural, que a moral que se lhe associa não é a mais adequada ou que a lição que dela se pretende extrair já lhe era preexistente, e que os laços com o corpo da história são bastante ténues ou mesmo francamente inexistentes. D. Juan Manuel compara o seu labor de escritor moralista ao do médico que sabe adoçar as amargas poções, para cura dos seus doentes.
Dois autores catalães sobressaem nesta matéria: o primeiro Ramon Llull (1232 ?-1315) bebe essencialmente em fontes orais e em fontes orientais, Kalila wa Dimna, Sendebar, As Mil e uma noites… assim como na famosa matéria de Renart donde extrai o nome da sua protagonista do Llibre de les bèstes, “Na Renard”, que acaba por morrer vítima das suas próprias intrigas. A ambição pelo poder levá-la-á à traição, atentar contra a própria vida do rei. O segundo, Eiximenis (1340? -1409) parece mais próximo do Romulus medieval e talvez de uma versão inglesa escrita em latim ou em anglo-normando.
Em França, a herança fabulística de Marie de France, produzida em espaço e língua anglo-normanda, nos finais do século XVI, inícios do século XVII, não permitiu que o género gozasse de qualquer tipo de privilégio, Fresnaye omite-a na sua Arte Poética. É já nos meados do século XVII que a tradução francesa de Kalila wa Dimna de D’Hispahan, sob o nome de Livre des lumières (Paris, 1644), permite a introdução de novos modelos e contribui decisivamente para a originalidade de La Fontaine. (Adnan Haddad, 1984. Fables de la Fontaine d’origine oriental).
Ao mesmo passo que combatia os mouros, a Espanha goda abria os serões palacianos às seduções do Oriente, da mística e do espírito lúdico muçulmano. Romances épicos, lendas heroicas, formaram-se no contacto com o Islão peninsular. Os próprios poetas árabes cultivaram a arte do mito e do conto, refletindo reflexões alquímicas bem patentes nas lendas das Mouras Encantadas.
A imaginação erótica, a pedagogia amorosa e a catequese alcorânica assentavam no universo de “As Mil e Uma Noites”, matéria dos passatempos no harém, onde as mulheres educavam as crianças, como se deduz do Colar de Pomba do cordovês Ibn Hazm. A paideia árabe estabelece profunda relação com a psicologia nacional, à qual apresenta modelos ou paradigmas de justiça de bondade, de inteligência e de prudência como Aladino, Ali Babá, o sonhador Acordado e Sindebade (a arte do comércio e da prosperidade, inspiradora do mercantilismo dos Descobrimentos).
As lendas das moiras encantadas, dos tesouros ocultos, dos génios maus, dos génios bondosos retratam o imaginário relativo à presença árabe na literatura popular e na literatura culta. É, todavia, o século XIX que, através da etnografia romântica, a redescobre. Os franceses, através das traduções de A. Galland, voltaram a reatar a sua íntima relação com o Oriente das Mil e uma Noites, a partir de 1704, e permitiram, deste modo, o reencontro da península com a sua própria herança milenar. Só depois das pesquisas de Adolfo Coelho e de Teófilo Braga, podemos ler, o que havia constituído um dos núcleos do thesaurus da nossa tradição popular.
Desse modo, “As Mil e Uma Noites” sustentaram o romantismo literário, ao qual deram o tom de mistério e de orientalismo, que tanto se estimou na época. Lembremo-nos de obras como as de Oliveira Parreira "Os Luso-Árabes" (1898). Existem algumas (seis) variantes diferentes de mouras encantadas, a Princesa Moura, a Moura-fiandeira, a Pedra-Moura, a Moura-Serpente, a Moura-Mãe e a Moura-Velha. Cada uma das seguintes versões tem as suas caraterísticas distintas.
As lendas de mouras e mouros revelam, todavia, restos de tradições muito arcaicas: por serem entidades de tal forma enraizadas nas populações, fazem parte de todo um imaginário coletivo passível de alterações consoante as zonas do país. Os mouros e as mouras, em particular, aparecem nas lendas como seres mágicos, com aparência humana ou semi-humana, por vezes sob a forma animal (serpente) guardando valiosos tesouros e vivendo em montes, florestas, rochedos, monumentos pré-históricos, nas fragas, em torres, nos castros, nas grutas, nas covas em cisternas, nos dólmenes, nas fontes, em lagos ou em rios. Podemos afirmar que tanto a norte como a sul, a moura exerce nas populações um grande fascínio, contudo, o modo como esse deslumbramento se manifesta nas comunidades é muito diferente. Estes seres míticos aparecem associados a elementos básicos: terra (montes, subterrâneos, rochas, etc.) e água (rios, riachos, fontes, etc.), sendo talvez a vertente terra mais caraterística a norte e a vertente água a sul.
No norte do país, as mouras são associadas a elementos e fenómenos naturais, como rochas, pedras e monumentos funerários semelhantes a antas e dólmenes. Nesta região as populações referem-se aos mouros como todos os povos que por ali habitaram e não só aos árabes ou outros invasores. Sabe-se que esta zona do país é rica em monumentos pré-históricos, pois é muito provável que as populações referirem-se a povos muito anteriores aos muçulmanos considerando que todos são mouros (Marques, 2013).
Assim, considera-se que os mouros do norte eram facilmente confundíveis com outros povos, resultando algumas diferenças consideráveis relativamente aos mouros do sul que talvez tenham origem nos djins, embora, nesse contexto se trate, de uma identidade relacionada com o fogo ou com os ares). No sul do país, estas lendas surgiram, de facto, de acontecimentos históricos reais, alterados e fantasiados como é próprio do género. Existe, nesta região, uma forte conotação entre a moura e a água (fontes, ribeiros, cisternas... (Marques 1997: 112, 149, 321, 339, 365).
É nossa convicção que o estudo da moura, enquanto entidade do nosso imaginário, não se pode esgotar num estudo dedicado às influências mouras na nossa literatura tradicional. Trata-se, de facto de uma entidade muito mais complexa que sofreu diversas influências culturais, tanto celtas como germânicas e mouras. Esperemos, num outro encontro, poder apresentar-vos os resultados do nosso estudo comparativista sobre essa nossa verdadeira e original criação.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alcorão (2002) SporPresss.
Alves, Adalberto (1987) O meu coração é árabe. Poesia Luso-Árabe. Lisboa: Assírio & Alvim.
Alves, Adalberto (1989) Arabesco. Da Música Árabe e da Música Portuguesa. Lisboa: Assírio & Alvim.
Alves, Adalberto (1989) Portugal e o Islão. Escritos do crescente. Lisboa: Editorial Teorema.
Alves, Adalberto (2013) Dicionário Arabismos da Língua Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Alves, Adalberto (2017) Os Indícios da Palavra. Lisboa: Althum.com
Braga, Teófilo (1987). História da poesia popular portuguesa. Lisboa: Vega.
Brandão, Abílio (1911) Lendas de Mouras encantadas. Revista Lusitana. Vol. XIV. Lisboa: Livraria Clássica.
Coelho, António Borges (1989) Portugal na Espanha Árabe-I. Geografia e Cultura. Lisboa: Caminho.
Coelho, António Borges (1989) Portugal na Espanha Árabe-II. Histórias. Lisboa: Caminho.
Coelho, António Borges (1999) Para a História da Civilização e das Ideias no Gharb al-Andalus. Instituto Camões Coleção Lazúli.
Chora, Ana Margarida; Pires Daniel (2016) As Chinelas de Abu-Casem, Conto Arábico. Setúbal: Centro de Estudos Bocageanos.
Fonseca, João (2007) Dicionário do nome das Terras. Origens, curiosidades e lendas das terras de Portugal. Cruz Quebrada: Casa das letras.
Garrett, Almeida (1997) Romanceiro. Lisboa: Círculo de Leitores.
Giacometti, Michel 1981) Cancioneiro Popular Português.
Gomes, Pinharanda (1991). História da Filosofia Portuguesa. 3 A Filosofia Arábigo-Portuguesa. Lisboa: Guimarães.
Haddad, Adnan (1984) Fables de la Fontaine. D’ Origine Orientale. Paris: Sedes.
Hespanha, António Manuel (Coord.) (1997) Memórias Árabo-Islâmicas em Portugal. Porto: Gaiadouro.
Khawam, René R. (trad.) (1985) Les aventures de Sindbad le Marin. Paris: Phébus.
Macias, Santiago; Torres, Cláudio (Coord.) (s.d.) O Islão entre o Tejo e Odiana. Évora: Milideias.
Machado, José Pedro (1944) A Língua Arábica do Andaluz, segundo os “Prolegómenos” de Iben Caldune. Lisboa: Oficinas Fernandes.
Machado, José Pedro (1984) Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa. Lisboa: Livros Horizonte.
Machado, José Pedro (1944) Ensaios Arábico-Portugueses. Lisboa: Notícias.
Marques, Amália (2013) Mouras, mouros e mourinhos encantados em lendas do norte e sul de Portugal. Vol. 2. Lisboa.
Marques Gentil (1997) Lendas de Portugal. Lisboa. Círculo de Leitores.
Okada, Amina (1984) Les Contes du Perroquet. França: Gallimard.
(1965) Pañcatantra. França: Gallimard.
Parafita, Alexandre (1999) A Comunicação e a Literatura Popular. Lisboa: Plátano.
Parreira, Oliveira (1898) Os Luso-Árabes. Scenas da vida muçulmana no nosso país. I Ibn-Ammar. Lisboa: Stereotypia Moderna.
Parreira, Oliveira (1898) Os Luso-Árabes. Scenas da vida muçulmana no nosso país. II Al-Motamid. Lisboa: Stereotypia Moderna.
Pereira, Luciano (2007) A Fábula em Portugal. Lisboa: Profedições.
Santos, Maria Alice Moreira dos (2000) Dicionário de Provérbios. Adágios, ditados, Máximas, Aforismos e Frases Feitas. Porto Editora.
Santo Moisés Espírito (2006) Os Mouros Fatimidas e as Aparições de Fátima. Lisboa: Assírio & Alvim.
Silva, Ana Cristina 2010) Crónica do Rei-Poeta Al-Mu’tamid. Lisboa: Editorial Presença.
Teyssier, Paul (2005) A Língua de Gil Vicente. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Vasconcelos, J. Leite de (1928) Antroponímia Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional.
Vasconcelos de Inácio (1981) Cancioneiro Popular Português vol. 3. Coimbra: universidade.
Vicente, Gil (1965) Obras de Gil Vicente. Porto: Lello & Irmão.
___________
LUCIANO PEREIRA
Escola Superior de Educação
Instituto Politécnico de Setúbal
Setúbal, 27 de julho de 2017
Publicado na Revista de Estudos Lusófonos, Língua e Literatura dos Colóquios da Lusofonia
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/22019/1/Contributos%20%C3%A1rabes%20na%20literatura%20popular%20portuguesa%20-%20pp.%20479-501.pdf






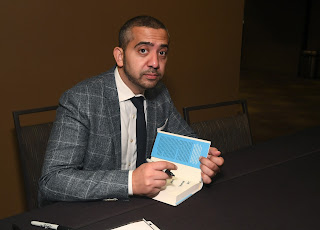
Comentários
Enviar um comentário